Os professores necessitam de espaço e tempo para que possam exercer sua docência de forma reflexiva e investigativa tendo em vista o aperfeiçoamento constante de sua própria prática. Isso vai na contramão das reformas trabalhistas, orientadas sobretudo pelos interesses empresariais, que estão em curso e que reduzem direitos e fragilizam o trabalho docente.
Há quinze anos atrás publiquei com minha grande parceira de pesquisa Carina Tonieto (na época minha orientanda de mestrado no PPGEdu/UPF), o livro autoral Educar o Educador: reflexões sobre formação docente (Fávero e Tonieto (2010).
Na apresentação do livro ressaltamos que a formação docente tomada como objeto de investigação originou “uma diversidade de teorias e práticas pedagógicas cujas preocupações geram uma pluralidade de concepções que valorizam a experiência vivida dos profissionais da educação”. Essa pluralidade de concepções espelha o cenário dos grandes desafios para pensar a relação pedagógica entre professor e aluno e como se dá a relação tensional entre formação da autonomia discente e a autoridade docente.
O termo “tensionamento” tem a clara intenção de indicar que a relação entre autonomia discente e autoridade docente não se dá de forma passiva ou espontânea, mas constitui-se de uma mediação dialógica que pode ou não ocorrer na experiência formativa da escola.
Conforme expressa com lucidez o pesquisador Yves de La Taille (1999, p. 10) “diz-se de alguém que tem autoridade quando seus enunciados e suas ordens são considerados legítimos por parte de quem ouve e obedece”. Nem todo ato de obediência é derivado de uma relação de autoridade, pois há situações (por exemplo num regime ditatorial) que a obediência se dá por medo e não por considerar legítimo quem nos dá ordens. Algo diferente ocorre quando estamos diante de uma autoridade legítima, democraticamente instituída. Neste caso, a autoridade é legítima porque suas ordens não são obedecidas por medo ou por coação, mas por respeito e por saber que o seu cumprimento pode produzir melhorias e crescimento.
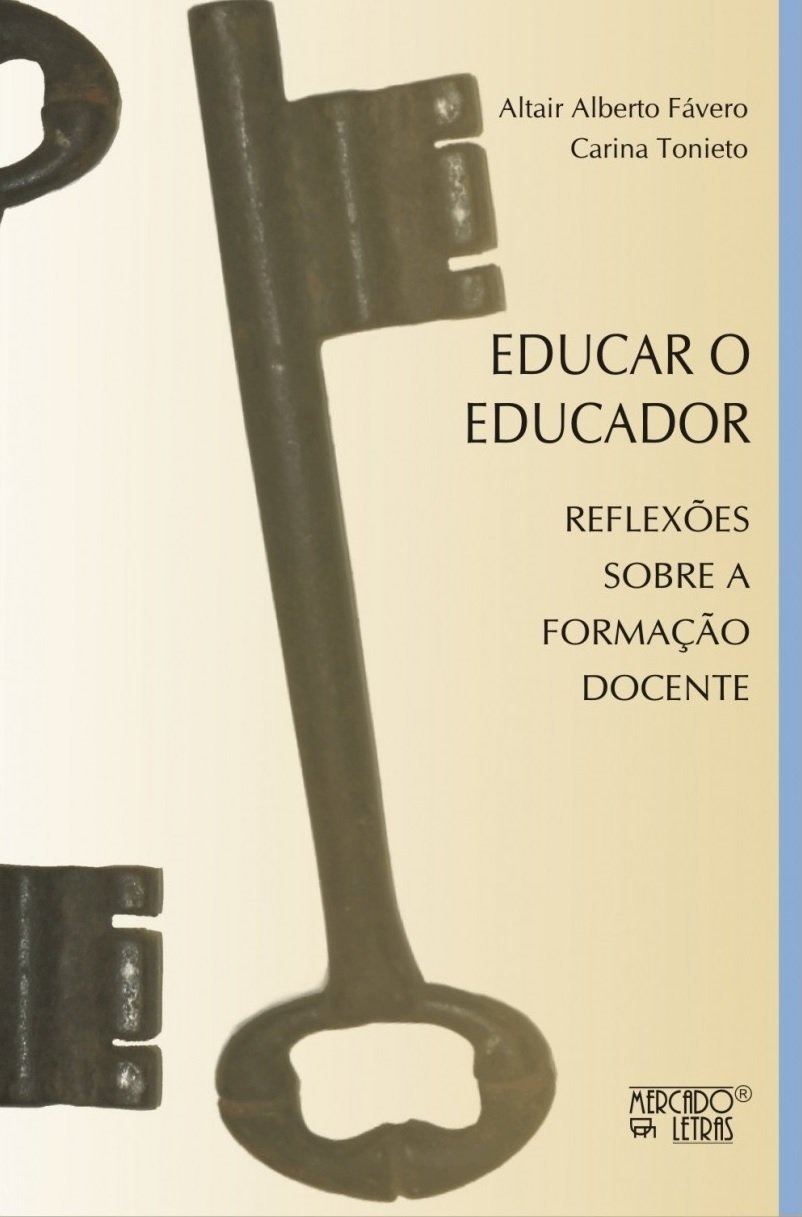
A relação entre professor e aluno pode ser um exemplo deste tipo de autoridade. O professor tem autoridade legítima sobre seus alunos quando suas ordens ou condução pedagógica das atividades tem por finalidade a aprendizagem e a formação dos alunos. Mas como pensar essa relação num cenário marcado por complexidades, fanatismos, ideologias conflitantes, negacionismos, autoritarismos, confusões conceituais e crises de autoridade? Que desafios precisam ser enfrentados para que a autonomia discente não seja confundida com anarquia irresponsável e a autoridade docente não seja confundida com autoritarismo castrador e promotor de medo e insegurança? As escolas podem espaços da construção de tempos e espaços de construir processos de autonomia discente? Qual o papel da autoridade docente neste processo? Na sequência deste escrito apresento três aspectos fundamentais para enfrentar minimamente estes questionamentos.
- A escola como espaço flexível para construir processos de autonomia
Torna-se cada vez mais notório que os processos educacionais estão sendo orientados para atender as demandas do mercado. A advertência de Nussbaum (2015, p. 4) é contundente quando alerta que “os países logo estarão produzindo gerações de máquinas lucrativas, em vez de produzirem cidadãos íntegros que possam pensar por si próprios”.
As instituições escolares estão se moldando à lógica de mercado e admitindo que se não acompanharem o “andar da carruagem” perderão espaço, importância e sua função. Esse desespero mercadológico, chamado por Bauman (2008) de “tornar a necessidade virtude”, leva os formuladores das políticas educacionais e os intelectuais, a aderirem ao jogo da oferta e da procura, no qual “os intelectuais, coletivamente degradados pela competição do mercado, convertem-se em promotores zelosos de critérios de mercado na vida universitária” e os critérios de avaliação de cursos, projetos e títulos passam a ser “uma boa abertura para o mercado, se vende bem – e a capacidade de vender (‘encontrar-se com a demanda’, ‘satisfazer as necessidades do potencial humano’, ‘oferecer os serviços que a indústria demanda’)” (Bauman, 2008, p. 173 – grifos do autor).
Tais constatações estendem-se para a educação básica, onde se voltam muitos projetos de reformas educacionais inspiradas pelas demandas e necessidades do mercado e da indústria, as quais são legítimas enquanto espaço de produção de bens e serviços, mas ilegítimas como projeto único de formação humana.
O perigo está em tornar as instituições escolares e as próprias universidades em meros complementos das demandas de treinamento, para garantir as necessidades do mercado, já que tal proposta não dá conta da complexidade e das necessidades da formação humana e pode se agravar se tais espaços formativos não assumirem direção de seu próprio processo (Tonieto; Fávero; Silva, 2022).
Não se trata de resgatar o ideal legislador da modernidade sólida em que escola era a principal responsável para formular o tecido social, mas dizer que a escola deve assumir a responsabilidade de definir a direção do seu próprio percurso é defender a posição que há questões além daquelas exigidas pelo mercado, que não podem sair do horizonte formativo dos seres humanos. É nesse sentido que a formação para a autonomia de sujeitos críticos constitui uma tarefa imprescindível da escola, ao mesmo tempo que necessita ser suficientemente flexível para reconhecer que em tempos-líquidos, as vozes e autoridades podem vir de vários lugares.
Na transição da modernidade sólida para a líquida, os espaços não formais de aprendizagem acentuaram-se consideravelmente, conforme vimos anteriormente. Inevitavelmente a educação formal “não pode mais deixá-los de lado, já que marcam cada vez mais o comportamento, o hábito e, em última instância, as influências extrainstitucionais no processo de socialização” (Flickinger, 2009, p. 77). Por isso, a flexibilidade é ponto decisivo para as instituições da educação formal, desde que seja com autonomia.
O sujeito da modernidade líquida muda num tempo mais curto daquele necessário para consolidar hábitos, rotinas e formas de agir (Bauman, 2007, p. 7), e a escola, tendo-o à sua frente, deve exercer seu papel de educar nessa transitoriedade de momentos e experiências que ele vive. Bauman recupera uma tese de Rorty (1999 apud Bauman, 2007, p. 21), que “definiu como objetivos desejáveis e realizáveis dos professores, as tarefas de agitar os garotos e instigar dúvidas nos alunos sobre as imagens que eles têm da sociedade a qual pertencem”. Isso pode significar preparar os alunos para a vida líquida, para a era da incerteza, mas sobretudo instigá-los a duvidar da imagem que possuem de si próprios e da sociedade em que vivem, superando consensos forçados, verdades imutáveis, e a própria lógica do consumo, que atrai as vidas.
Em síntese, a docência na modernidade líquida é flexível e autônoma por não decretar o que é certo e verdadeiro, mas por ajudar os educandos a encarar com sobriedade e reflexão o mundo cambiável em que se vive.
b) A autoridade docente emana da reflexão e da investigação
A modernidade líquida, ao desestabilizar os conhecimentos imutáveis, colocou em crise a autoridade docente que tinha o poder de transmitir tais conhecimentos que perdurariam por todo o sempre. A negação desta lógica moderno-sólida e a insurgência de uma aprendizagem ao longo da vida, na modernidade líquida, pode nos levar a encontrar elementos positivos das condições líquido-modernas.
Para Flickinger (2009, p. 68), a reorganização e deslocamento dos lugares da produção do saber para além das instituições tradicionais, “representam apenas algumas consequências de um processo econômico-social que não se satisfaz mais com um determinado estoque de conhecimentos disponíveis”. A nova noção de aprendizagem tem como pauta “romper com a regularidade, flexível o bastante a ponto de permitir libertar-se de velhos hábitos e com uma enorme capacidade de reorganizar experiências episódicas e fragmentárias em pautas anteriormente pouco familiares” (Almeida; Gomes; Bracht, 2009, p. 71). Embora seja paradoxal, a regularidade é não haver regularidade ou continuidade.
Diante disso, pressupõe-se que os processos formativos não estão mais completamente dados a priori, instaurados de forma definitiva nas instituições tradicionais, mas envolvidos numa trama bastante complexa e permeável pelas condições dos tempos líquidos da contemporaneidade. Isso significa que a docência precisa fazer as pazes com a incerteza diariamente fabricada e com a ambiguidade, além dos diversos pontos de vista e a inexistência de autoridades infalíveis e seguras (Almeida; Gomes; Bracht, 2009, p. 71).
Fazer as pazes com a incerteza não significa abrir mão de elementos duradouros e essenciais para a formação humana em nome de um relativismo extremado, sem direção, mas reconhecer que este ambiente de pouca estabilidade pode promover um processo reflexivo permanente.


Algo de instigante que nos aparece nesses tempos cambiáveis é que “no lugar de conhecimentos objetivos e de habilidades instrumentais exige-se uma competência reflexiva”, de questionar as certezas antes construídas e de redefinir, sempre de novo, o papel supostamente estável” (Flickinger, 2009, p. 68). Na sociedade de produtores e consumidores, a ambivalência entre ser e parecer ser dificulta que os indivíduos se voltem para si mesmos, ampliado o desafio docente para o exercício da reflexão, como base da formação.
O segundo desafio, consiste então, em compreender a docência na modernidade líquida em vias de reflexão e investigação, ou seja, conceber o professor como um agente reflexivo e investigativo.
Trata-se de conceber os professores como aqueles que assumem uma autoridade dentro daquilo que Bauman (2010) definiu como interpretação. Interpretar é a marca do trabalho intelectual e profissional do professor da modernidade líquida, que necessita superar em grande medida a autoridade verticalista do professor com relação a “massa” de aprendizes. Além de ser um sujeito que compreende, também torna-se autor de sua própria prática pedagógica, na medida em que investiga seu próprio fazer e se torna capaz de pensar a educação e não somente reproduzir e aplicar mecanicamente ações planejadas por outros. Segundo Almeida, Gomes e Bracht (2009, p. 89), tal visão “representa um duro golpe nas pretensões proselitistas ainda existentes no campo educacional, que continuam a insistir na posse da verdade e, por consequência, da prática educativa que, inexoravelmente levaria até ela”.
Criar possibilidades para o “professor reflexivo” tem desafiado enormemente os condutores de processos de formação docente inicial e continuada, num cenário de precarização das relações de trabalho no campo educacional. Professores com acúmulo de contratos, excessiva carga horária, baixos salários, precárias condições estruturais das instituições de ensino, amedrontados pelas ações de controle de seu pensamento e de sua ação e diferentes formas e violência estão visivelmente desesperançados com relação às possíveis melhorias num futuro próximo.
Leia também: www.neipies.com/ser-professor-reflexivo/
Os professores necessitam de espaço e tempo para que possam exercer sua docência de forma reflexiva e investigativa tendo em vista o aperfeiçoamento constante de sua própria prática. Isso vai na contramão das reformas trabalhistas, orientadas sobretudo pelos interesses empresariais, que estão em curso e que reduzem direitos e fragilizam o trabalho docente. Por isso, as instituições educacionais, os gestores da educação pública e privada, se almejam profissionais reflexivos, investigativos e qualificados deverão fazer resistência à mercantilização da educação. Caso contrário, a profissão docente se tornará apenas um “bico”, e sendo assim, os rumos da educação nessas condições não serão muito promissores.
c) A escola como espaço de discussão e promoção da justiça social
Observamos que a escola da modernidade sólida era seletiva, eletista e classificatória. Não era uma escola para todos e ficou marcada por excluir grupos que não estivessem de acordo com o perfil estabelecido. Pobres, deficientes físicos, pessoas com transtornos mentais, negros, homossexuais, doentes tornaram-se como que “ervas daninhas” que precisavam ser eliminadas do jardim civilizatório (Bauman, 2010).
Com a escola líquida-moderna, a ambivalência, a diferença, os anteriormente excluídos, poderiam ter seu espaço, pois, a vida passou a ser compreendida de modo mais plural. As instituições educacionais passaram a ter papel importante na busca por justiça social e superação de desigualdades sociais, econômicas, de gênero e acesso aos direitos básicos. Contudo, a escola dos tempos líquido-modernos ainda não conseguiu se efetivar de fato como um lugar de educação para todos e um espaço de superação da injustiça. Continuamos tendo uma escola excludente, classificatória, dual, discriminatória, de dominação branda.
Para Bauman (2010, p. 227), “o novo modo de dominação se distingue pela substituição da repressão pela sedução, do policiamento pelas relações públicas, da autoridade pela propaganda, da imposição da norma pela criação de necessidades”. A ligação dos indivíduos à sociedade se dá pela capacidade de consumo, portanto, é o mercado quem assume as rédeas do controle dos projetos de vida e, por consequência, o poder de excluir e incluir está em suas mãos. Os que não conseguem acompanhar o fluxo das necessidades criadas por esse novo agente de controle, tornam-se os novos reprimidos (Bauman, 2010, p. 230).
A marginalização e a pobreza da contemporaneidade líquida em última análise, parece ser produto da emancipação do capital em relação ao trabalho, já que “hoje o capital não emprega o restante da sociedade no papel de trabalho produtivo” e o “número de pessoas que ele de fato assim emprega torna-se cada vez menor e menos significante” (Bauman, 2010, p. 243). O capital, de outro lado, emprega as pessoas como consumidoras, não mais em função do trabalho estritamente, isto é, as novas massas de pobres aumentam pelo mundo todo, vítimas da não inclusão no emprego do consumo, os quais são os refugos humanos, na linguagem baumaniana.
Inevitavelmente, o trabalho docente na modernidade líquida não pode ignorar a discussão e a busca por justiça social, assim como a formação ética dos sujeitos. A promessa da autenticidade individual, ou autonomia, tão bem defendida pelo iluminismo é dissipada pela “privatização crescente das preocupações individuais” e pela “diminuição na participação em assuntos públicos” (Bauman, 2010, p. 258). A precarização do público, do espaço de relação entre os seres humanos, enquanto membros de uma mesma nação, comunidade ou grupo, acarreta profundas injustiças e desigualdades.
Talvez uma das tarefas intransferíveis dos docentes diante desse contexto é oportunizar aos alunos processos formativos que os tornem conscientes da massiva carga de mercadorização imposta ao sistema educacional.
A velha pretensão instrumental de educar somente para o mercado de trabalho não se sustenta, pois o educando não irá somente trabalhar ou consumir; ele terá uma teia vital bastante complexa e multidimensional para lidar. Por isso, as escolas precisam “prover meios adequados a fins orientados para a pessoa” e no processo educativo “expor as limitações da razão instrumental, restaurando a autonomia da comunicação humana e a criação de significados orientados pela razão prática” (Bauman, 2010, p. 259).
Trata-se de retomar o projeto de autonomia iluminista em contextos líquido-modernos, de voltar a colocar o ser humano no centro do processo formativo, de ressignificar a autoridade docente e da escola, para a emancipação dos sujeitos. Em outras palavras, o projeto moderno está inconcluso, e cabe aos docentes, intelectuais e instituições formativas levá-lo a sua realização.
Considerações finais
A docência continua sendo essencial para os processos educacionais, embora se encontre muito ameaçada e pouco valorizada enquanto profissão. A autoridade docente, na modernidade líquida, possui suas especificidades e desafios numa dialética entre o ofício de normatizar (oferecer conhecimentos basilares e direcionar um processo formativo) e o de interpretar (compreender as relações cambiáveis, diferenças culturais, novos hábitos).
Numa perspectiva baumaniana está posta uma complexa relação entre elementos dos tempos sólidos e dos tempos líquidos, ou seja, uma permanente ambivalência, de coexistência de elementos dissonantes num mesmo espaço e tempo. Os professores continuam sendo protagonistas na retomada do projeto moderno de autonomia centrado no ser humano, que se encontra inacabado em virtude das intenções proselitistas do mercado. A modernidade sólida falhou ao optar pela repressão em vez da autonomia dos indivíduos; a modernidade líquida falha ao optar por consumidores em vez de sujeitos reflexivos.
Segundo a abordagem de Freire (2000, p. 51), considera-se que é importante e imprescindível estabelecer uma consciência coletiva de que nenhuma formação e ação docente responsáveis socialmente podem constituir-se apartadas “do exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica”, assim como é salutar para a promoção de uma pedagogia da autonomia “o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição”.
Defende-se, desse modo, que a escola continua sendo indispensável para a promoção de experiência pedagógica voltada para a emancipação humana em tempos líquido-modernos. Para tanto, apontam-se algumas perspectivas a partir das exigências e possibilidades postas pela pedagogia da autonomia freireana e pela compreensão das relações humanas num cenário marcado pela liquidez.
A valorização da carreira docente, a garantia de condições adequadas de trabalho e a aposta em projetos educativos formativos são elementos fundamentais para o fortalecimento e construção da docência, já que somente discursos empolgados em favor da educação e de responsabilização dos docentes pouco ou nada contribuem para a constituição de ambientes escolares promotores de experiência educativas emancipadoras e que acolham e atendam os interesses juvenis e as necessidades inerentes ao trabalho docente (Fávero; Centenaro; Santos, 2023; Tonieto; Bellenzier; Bukowski, 2023; Fávero; Tonieto; Bellenzier; Bukowski; Consaltér; Centenaro, 2022; Bellenzier; Guerra; Fávero, 2021).
Desse modo, as possibilidades de construção de uma relação harmoniosa entre autonomia discente e autoridade docente no contexto líquido-moderno estão marcadas por um contexto político-pedagógico adverso que, por um lado, desafia os sujeitos envolvidos nas decisões educacionais e, por outro, reforça a necessidade de relações pedagógicas construtivas que contribuam para a formação humana levando em consideração a liquidez das relações humanas e sociais.
Para os que tiverem interesse em acessar o livro completo Educar o Educador: reflexões sobre formação docente, referido no início deste escrito, segue o link de acesso: https://www.researchgate.net/publication/355339078_Educar_o_educador_-_reflexoes_sobre_a_formacao_docente
Referências:
BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e Intérpretes:sobre modernidade, pós-modernidade e intelectuais.Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.2010.
BAUMAN, Zygmunt. Vida Líquida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.2007.
BAUMAN, Zygmunt. Sociedade Individualizada: vidas contadas e histórias vividas. Trad. José Gradel.Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.2008.
BELLENZIER, Caroline Simon; GUERRA, Simone Zanatta; FÁVERO, Altair Alberto. A docência universitária e as juventudes: implicações das relações pedagógicas em uma perspectiva humanizadora. In: OLIVEIRA, Victor Hugo Nedel; CASTILHLO, Rosane (orgs.). Juventudes brasileiras: Questões contemporâneas. Parnaíba/PI: Acadêmica Editoria, 2021, p.105-126.
FÁVERO, Altair Alberto; TONIETO, Carina. Educar o educador: reflexões sobre formação docente. Campinas: Mercado de Letras, 2010.
FÁVERO, Altair Alberto; CENTENARO, Junior Bufon. A autoridade docente na modernidade líquida. In: FÁVERO, Altair Alberto; TONIETO, Carina; CONSALTÉR, Evandro (orgs.). Leituras sobre Zygmunt Bauman e a Educação. Curitiba: CRV, 2019, p.81-99.
FÁVERO, Altair Alberto; CENTENARO, Junior Bufon; SANTOS, Antonio Pereira dos. A liberdade de escolha no Novo Ensino Médio: a percepção de gestores escolares quanto à proposta de flexibilização curricular. Revista Espaço Pedagógico, Passo Fundo, v. 30, p. e14414, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5335/rep.v30i1.14414>. Acesso em: 27 fev, 2025.
FÁVERO, Altair Alberto Fávero; TONIETO, Carina; BELLENZIER, Caroline Simon; BUKOWSKI, Chaiane; CONSÁLTER, Evandro; CENTENARO, Junior Bufon. O protagonismo dos estudantes na reforma do ensino médio: de que protagonismo estamos falando? In: KÖRBES, Clecí; FERREIRA, Eliza Bartolozzi; SILVA, Monica Ribeiro da; BARBOSA, Renata Peres. (Orgs.). Ensino médio em pesquisa. Curitiba: CRV, 2022. p. 215-228
FLICKINGER, Hans Georg. A dinâmica do conceito de formação (bildung) na atualidade. In: CENCI et al. Sobre filosofia e educação:racionalidade, diversidade e formação pedagógica. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 52 ed. São Paulo: Paz & Terra, 2015.
LA TAILLE, Yves, Autoridade na escola. In: AQUINO, Julio Groppa (org.). Autoridade e autonomia. 4 ed. São Paulo: Summus, 1999, p.9-29.
NUSSBAUM, Martha C. Sem fins lucrativos:porque a democracia precisa das humanidades. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015.
TONIETO, Carina; FÁVERO, Altair Alberto; SILVA, Diocélia Moura da. A magia das competências na educação básica. FÁVERO, Altair Alberto; TONIETO, Carina; CONSALTÉR, Evandro; CENTENARO, Junior Bufon. (Org.). Leituras sobre a pesquisa em política educacional e a teoria da atuação. Chapecó: Livrologia, 2022. p. 137-156.
TONIETO, Carina; BELLENZIER, Caroline Simon; BUKOWSKI, Chaiane. As concepções dos estudantes em relação ao protagonismo juvenil no Novo Ensino Médio. Revista Espaço Pedagógico, Passo Fundo, v. 30, p. e14398, 2023. Disponível em:
<https://doi.org/10.5335/rep.v30i1.14398>. Acesso em: 27 fev. 2025.
Autor: Altair Alberto Fávero – altairfavero@gmail.com Professor e pesquisador do Gepes/PPGEdu/UPF. Também escreveu e publicou no site “A construção de uma pedagogia da autonomia”: www.neipies.com/a-construcao-de-uma-pedagogia-da-autonomia/
Edição: A. R.






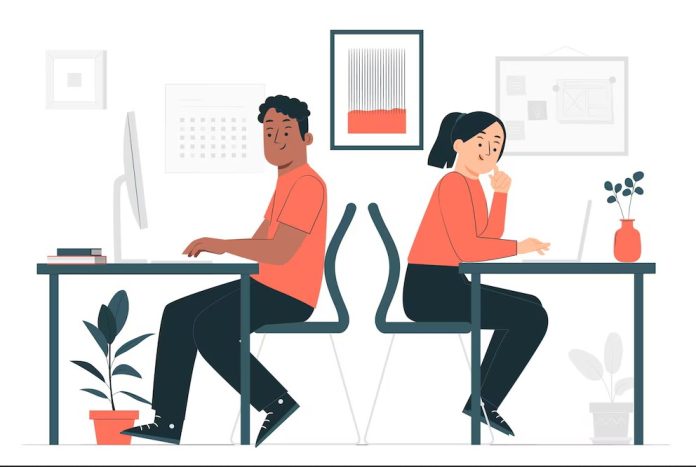

![Autoridade docente na modernidade líquida[1]](https://www.neipies.com/wp-content/uploads/2025/03/8877-218x150.png)




