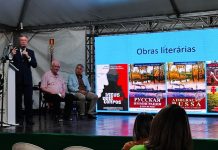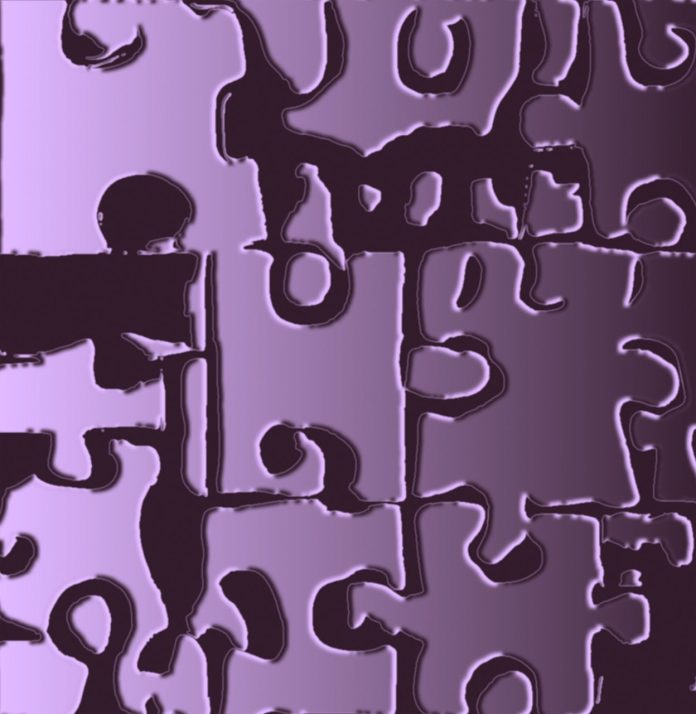O esvaziamento das esferas de participação política é uma forma de morte
democrática. A política, em sua essência, deve ser o espaço de construção de
consensos, de debates plurais e de busca pelo bem-estar comum.
Nos últimos anos, a política brasileira tem experimentado uma transformação que, longe
de ser uma evolução democrática, representa um retrocesso ao seu papel fundamental: o
de zelar pelo bem público. A praça pública, historicamente o lugar de debate e
deliberação, tem sido tomada pelo espetáculo da antipolítica, esvaziando a essência do
que é ser político e governar em prol da sociedade. A emergência da necropolítica,
conceito do filósofo Achille Mbembe, torna-se cada vez mais visível, sinalizando a
morte da política como força vital e transformadora da vida em sociedade.
O Abandono da Ágora mostra o Espaço Público em Ruínas, na Grécia Antiga, a
ágora era o espaço central das cidades, onde os cidadãos se reuniam para discutir
questões de interesse comum, tomando decisões sobre o futuro da polis (cidade).
No Brasil contemporâneo, este espaço simbólico da ágora foi gradualmente erodido por
uma retórica de polarização, desinformação e um apelo ao individualismo exacerbado.
Em vez de discussões racionais e produtivas, o debate público se transformou em um
palco de discursos violentos e excludentes, incapazes de construir pontes entre
diferentes setores da sociedade. A polarização, que se ampliou exponencialmente nas
últimas eleições, transforma cada vez mais a praça pública em um campo de batalha
onde prevalece o ataque pessoal em detrimento do diálogo construtivo.
O abandono desse espaço de debate é sintomático de um fenômeno maior: a corrosão da
confiança nas instituições democráticas. A população, insatisfeita com a ineficácia das
políticas públicas e com a corrupção desenfreada, volta-se para alternativas que
promovem um discurso autoritário, anti-institucional e, em alguns casos,
antidemocrático. Ao invés de revitalizar a política, o que temos visto é o surgimento de
uma antipolítica, que se coloca como o antídoto ao sistema vigente, mas que, na
realidade, colabora para o aprofundamento da crise.
Antipolítica e o Caminho para a Necropolítica, a antipolítica se alimenta da insatisfação
popular, e sua ascensão é um reflexo da incapacidade do sistema político de oferecer
soluções para os problemas sociais. No entanto, em vez de promover uma renovação
dos mecanismos democráticos, essa postura reforça a ideia de que as instituições são
incapazes de prover respostas adequadas. O resultado é uma forma de governança que,
em vez de se preocupar com o bem comum, legitima a marginalização de certos grupos,
a concentração de poder e a exclusão do debate público.
A necropolítica, em sua essência, é a política da morte, onde o Estado decide quem vive
e quem morre, quem tem direito à vida e quem é descartável. No Brasil, vemos essa
lógica aplicada de diversas formas.
A violência policial nas periferias, a negligência com populações vulneráveis como os
povos indígenas e quilombolas, e a falta de uma política sanitária eficaz durante a
pandemia de COVID-19 são exemplos claros da necropolítica em ação. Em vez de
proteger os cidadãos, o Estado se omite ou age de forma violenta, perpetuando a
desigualdade e a exclusão. Essa necropolítica não é apenas física, mas também
simbólica.
O esvaziamento das esferas de participação política é uma forma de morte
democrática.
A política, em sua essência, deve ser o espaço de construção de consensos, de debates
plurais e de busca pelo bem-estar comum. Quando esses princípios são abandonados em
prol de um espetáculo de violência e polarização, estamos, de fato, testemunhando a
morte da política.
A Urgência de Reocupar a Praça Pública. Se o destino da política no Brasil parece
sombrio, é justamente na resistência ao avanço da necropolítica que reside uma possível
saída. Reocupar o espaço público – não apenas o físico, mas o simbólico – é uma tarefa
urgente para aqueles que acreditam na democracia e no poder transformador da política.
Essa reocupação passa pela construção de uma nova ética política, onde o diálogo, a
transparência e o compromisso com o bem comum sejam valores centrais.
A política deve voltar a ser vista como a “arte do possível”, um meio para melhorar as
condições de vida da população, e não como uma arena de disputas mesquinhas e
violentas. Também é essencial que o cidadão comum retome seu papel ativo na política.
O desencanto com os partidos e a política institucional não pode levar à apatia,
mas sim a uma revitalização das formas de participação popular. Movimentos
sociais, ONGs e outras formas de organização civil têm um papel crucial em
pressionar o Estado a retomar sua função primária de promover o bem público.
Urge refletir sobre o cenário político brasileiro atual para entender que ele é um
reflexo de uma crise mais profunda que atinge a própria ideia de política.
A necropolítica, com sua face de violência e exclusão, tem se infiltrado nas práticas de
Estado, colocando em risco a vida e a dignidade de milhares de cidadãos. Reverter esse
quadro passa pela reocupação simbólica da ágora, pela retomada do espaço público
como lugar de debate e construção coletiva, e pela reafirmação de que a política, em sua
essência, deve servir à República, isto é, à coisa pública, ao bem de todos.
Autor: José André da Costa , msf. É Padre dos Missionários da Sagrada Família,
Integrante da Comunidade de Vida Religiosa dos Padres Saletinos, Professor de
Ciências Sociais, Estudos Sociológicos em Educação, Atividade de Extensão em
Educação Ambiental, Filosofia Geral e do Direito, Tópicos Avançados em Agronomia,
nas Faculdades Integradas da América do Sul – INTEGRA – Caldas Novas – GO. Também escreveu e publicou no site “A busca da vida ética”: www.neipies.com/a-busca-da-vida-etica/
Edição: A. R.