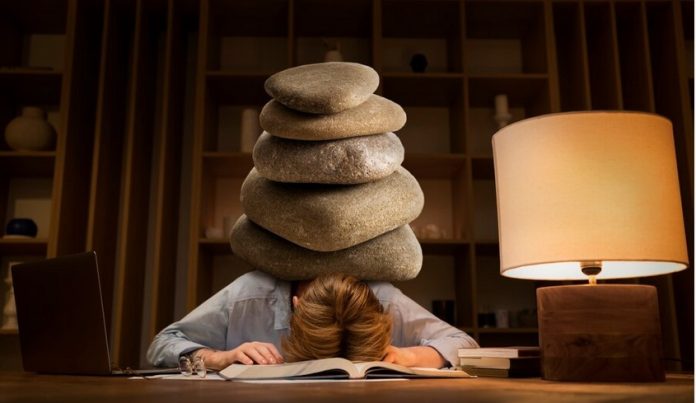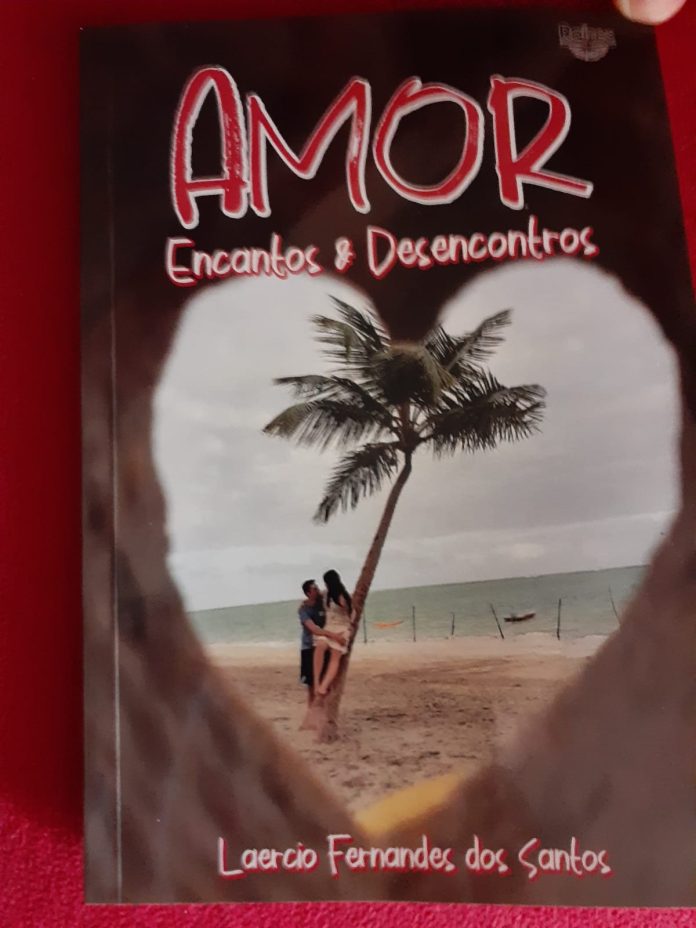O ano de 2024 não terminou bem para a educação pública brasileira. Aliás, estamos percebendo que, especialmente, a partir de 2014, as escolas públicas brasileiras e os professores têm sido alvo de intensas ofensas. Esta última década foi um período de crescentes ataques à educação pública e democrática. E pior, em 2025, nada indica que será diferente.
Recente Dossiê da Revista Retratos da Escola (Brasília, v. 18, n. 42), que busca, por meio do olhar de diferentes pesquisadoras e pesquisadores, analisar, compreender e combater diferentes projetos, políticas, ações e formas de conservadorismo na educação básica, aponta que vivenciamos um cenário de desconfiança em relação ao trabalho de profissionais da educação, com políticas de controle do seu trabalho docente, avanço da militarização escolar, investidas visando a regulamentação da educação domiciliar e popularização do discurso antigênero na arena social.
Por outro lado, o Projeto de Lei (PL) do próximo Plano Nacional de Educação (PNE 2025-2035) precisa de melhorias estruturais. A PEC do corte de gastos atingiu o Fundeb ao permitir destinar até 20% da complementação da União ao fundo para fomentar exclusivamente a educação em tempo integral. Diversas regulações dos Conselhos de Educação (âmbito nacional, estaduais e municipais) impactam no direito à educação e colaboram com estes retrocessos.
Nesta perspectiva, em escala global, o Relatório de Monitoramento Global da Educação 2024 (GEM), lançado pela Unesco em 31 de outubro em Fortaleza (Ceará), aponta que “o nível de aprendizagem caiu, o número de estudantes fora da escola não está diminuindo e a prioridade dada à educação pelos governos também reduziu. Com tantos desafios para a educação, precisamos de mais líderes, não só dentro das escolas, mas em todos os setores da sociedade civil”, afirmou diretor do relatório GEM, Manos Antoninis.
As desigualdades regionais continuam acentuadas: 33% de crianças e jovens em idade escolar nos países de renda baixa estão fora da escola, em comparação a apenas 3% nos países de renda alta. Considerando o contexto mundial, mais da metade de todas as crianças e adolescentes fora da escola vivem na região da África Subsaariana. “A equidade e a inclusão na educação e por meio da educação são fundamentais para a visão de desenvolvimento social do Brasil”, disse Camilo Santana, ministro de Estado da Educação, durante o lançamento do referido relatório.
Muitos são os desafios educacionais para 2025 e próximos anos, entre os quais destacamos e reforçamos: o desafio do aumento do financiamento público, o desafio da valorização dos professores, o desafio do direito à aprendizagem, do acesso as tecnologias e os desafios das mudanças climáticas. Estes temas constam dos relatórios da Unesco e do relatório do G-20 tornados públicos em final outubro de 2024 aqui no Brasil.
Financiamento está diminuindo na educação
O investimento nacional e internacional na educação está diminuindo. Em âmbito mundial, entre 2015 e 2022, os gastos com educação pública caíram 0,4 ponto percentual do PIB: o nível mediano caiu de 4,4% para 4%. A participação da educação no total dos gastos públicos diminuiu 0,6 ponto percentual, de 13,2%, em 2015, para 12,6%, em 2022. O peso cada vez maior do serviço da dívida tem implicações para os gastos com educação.
Em 2022, os países da África Subsaariana gastaram quase o mesmo valor em serviço da dívida do que em educação. Quanto às duas metas referenciais internacionais de se gastar pelo menos 4% do PIB e pelo menos 15% das despesas públicas com educação, 59 de 171 países não alcançaram nenhuma delas.
Os gastos com educação por criança permanecem praticamente os mesmos desde 2010. A participação da ajuda internacional destinada à educação caiu de 9,3%, em 2019, para 7,6%, em 2022.
No Brasil, segundo a economista Maria Lucia Fattorelli, no ano de 2023, R$ 1,89 trilhão foi destinado ao gasto com juros e amortizações da dívida pública, correspondente a 43,23% de todos os gastos. Enquanto isso, a Educação recebeu apenas 2,97%, a Saúde 3,69%, Ciência e Tecnologia 0,29 %, Gestão Ambiental 0,0895%, Organização Agrária 0,0596%, e assim por diante.
Falta de professores
Nas condições profissionais dos professores evidencia-se que o número de professores é insuficiente nas salas de aula decorrente da escassez de candidatos ou da falta de vagas. O primeiro caso é mais comum em países de renda mais alta: apenas 4% dos adolescentes de 15 anos que vivem nos países de renda mais alta querem se tornar professores; o segundo caso é mais comum em países de renda mais baixa: no Senegal, houve um excedente de mais de mil professores qualificados apenas no ano de 2020.
Muitos professores, por diversas razões, não têm as qualificações mínimas exigidas. Na África Subsaariana, a proporção caiu de 70%, em 2012, para 64%, em 2022. Na Europa e na América do Norte, caiu de 98%, em 2010, para 93%, em 2023.
Os padrões variam entre as regiões. A maioria dos países exige que os professores tenham um diploma de bacharelado ou licenciatura para lecionar na educação primária, enquanto 17% dos países da África Subsaariana aceitam um certificado de conclusão do primeiro nível da educação secundária.
No cenário brasileiro, professores temporários atingiram, pela primeira vez, em 2022, as redes estaduais tinham mais professores temporários do que efetivos. Este cenário se manteve em 2023, com 51,6% de temporários e 46,5% de efetivos. Estudos recentes demonstram que em 15 estados há mais docentes temporários do que efetivos e, de 2020 a 2023, 67% dos estados aumentaram a quantidade de temporários e diminuíram a de efetivos.
“A cada eleição, a lenga-lenga se repete. A Educação está lá, entre as prioridades sempre citadas mas nunca realizadas. Os candidatos prometem melhor ensino público, melhor preparação dos estudantes, escolas mais bem equipadas e por aí vai. O que se vê, porém, é o oposto disso”. (Chico Alves, jornalista) Leia mais: www.neipies.com/governantes-querem-educacao-sem-professores/
Impactos nas aprendizagens
Os níveis dos resultados de aprendizagem continuam caindo. Antes mesmo da COVID-19 estavam em queda, mas a pandemia agravou essa tendência. Evidências de 70 países de renda média-alta e alta que participaram do PISA de 2022 (no final do primeiro nível da educação secundária) mostram que, de 2012 a 2018, a proporção de estudantes proficientes em leitura caiu 9 pontos percentuais, e desceu ainda mais 3 pontos, reduzindo essa proporção para 47% em 2022.
De 2012 a 2018, a proporção de estudantes proficientes em matemática aumentou 2 pontos percentuais, mas caiu 8 pontos, para 36%, em 2022. Um declínio de longo prazo pode estar acontecendo desde 2009. A Covid-19 pode ter acelerado essa queda e mascarado outros fatores estruturais.
Tecnologias reproduzem desigualdades
A utilização de tecnologias apresenta grandes desigualdades entre os países em relação à familiaridade com atividades básicas realizadas em computadores: em países de alta renda, 8 em cada 10 adultos conseguem enviar um e-mail com um anexo, mas em países de renda média, apenas 3 em cada 10 adultos são capazes de fazer o mesmo.
A educação formal está ligada à maior aquisição de habilidades digitais. Quanto às atividades relacionadas a smartphones, em países de renda alta, 51% de jovens e adultos são capazes de configurar medidas de segurança para dispositivos digitais, em comparação com 9% em países de renda média.
Desastre planetário e climático
A mudança climática impõe, também, desafios à infraestrutura e aos currículos. Em todo o mundo, quase 1 em cada 4 escolas primárias não tem acesso básico a água potável, saneamento e higiene. Porém, governos também devem realizar investimentos mais amplos para oferecer aos estudantes e às escolas mais proteção relativa ao aumento das temperaturas e dos desastres naturais. Entre tantas urgências e novas agendas que se apresentam no contexto atual é fundamental retomarmos a Educação Ambiental e Climática com a seriedade em todas as instituições de ensino.
No Brasil, segundo Censo Escolar de 2023, cerca de 1,4 milhão de estudantes estão matriculados em escolas públicas que não contam com fornecimento de água tratada, própria para o consumo. A maior parte desses alunos é negra. Em todo o país, cerca de 5,5, milhões de estudantes estão em escolas sem qualquer abastecimento de água pela rede pública. Desses, 2,4 milhões frequentam escolas predominantemente negras e 260 mil, escolas de maioria branca. Os 2,8 milhões estão em escolas mistas.
De acordo com o professor Marcelo Tragtenberg (UFSC), “Em geral, não se tem um olhar racializado sobre os indicadores sociais, mas, quando se racializa, o que acontece é que as escolas onde predominam estudantes negros são escolas com pior infraestrutura de água e saneamento. Onde predominam brancos, as escolas têm melhor infraestrutura.
A educação ambiental foi praticamente extinta
A Educação Ambiental foi praticamente extinta pelas recentes reformas educacionais nos currículos escolares. No seu espaço está sendo priorizada a educação financeira, empreendedora e inovadora. Precisamos, agora, retomar a educação ambiental formal e não formal, integral, crítica, comprometida com a justiça climática, com a ética socioambiental e proteção de todos os seres vivos da natureza.

Em outra publicação, já apontamos a necessidade urgente da volta da educação ambiental nos ambientes escolares: www.neipies.com/retomar-a-educacao-ambiental-e-climatica-e-tentar-superar-o-capitalismo/
A escritora, professora e ativista Bell Hooks aponta que os sistemas institucionalizados de dominação e, portanto, de produção e manutenção das desigualdades (econômicas, raciais, religiosas, gênero, sexualidade etc.) usam o ensino para reforçar valores dominadores e conservar a estrutura de sociedade pautada em valores patriarcais, machistas, racistas, classistas, imperialistas.
Para a autora, expor os fundamentos políticos conservadores que moldam o conteúdo do material utilizado nas escolas, bem como a maneira pela qual as ideologias de dominação estabeleceram a prática de ensino e a atuação de pensadores/as em sala de aula, permite a educadores e educadoras considerarem o ensino de um ponto de vista voltado a libertar a mente dos/das estudantes em vez de doutriná-los/las.
Já filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey disse que a democracia deve renascer a cada geração, e a educação é sua parteira – logo, a democracia e o modo democrático de viver precisam ser ensinados e apreendidos. A democracia tem um vínculo visceral com a igualdade, pois sociedades democráticas pressupõem condições dignas de existência para todas as pessoas, e as instituições escolares e os processos educativos constituem-se espaços essenciais de construção e aprendizado do modo democrático de viver.
Autor: Gabriel Grabowski, professor e pesquisador. Também escreveu e publicou no site “A juventude não é preguiçosa; ela pensa o mundo diferente”: https://www.neipies.com/a-juventude-nao-e-preguicosa-ela-pensa-o-mundo-diferente/
Edição: A. R.