Ora, acolher é ação social. Para que e como se efetiva o acolhimento depende de decisões humanas. Libertar uma criança da condição de excluída da humanidade e filiá-la à comunidade requer iniciativas práticas por parte dos servidores públicos pertinentes ao caso.
Considerações iniciais
As reflexões aqui apresentadas têm como base empírica fragmentos de uma história de vida de uma menina cujo modo de ser não se deixa apreender mediante os modelos usuais de representação psicopedagógica a respeito dos estudantes.
À medida que se apropriar da narrativa, o leitor poderá ter a impressão de estar diante de um contraexemplo existencial do importar-se-consigo-mesmo, tido por Martin Heidegger como um fenômeno originário do ser/estar-aí-no-mundo, com os outros e junto às coisas, de modo que deixaria perplexo o corifeu da fenomenologia hermenêutica com a singela pergunta: “pode existir uma pessoa humana que não se importa consigo mesma?”
No veio da ética levinasiana, a questão é se os/as educadores/as estão dispostos/as a atender a apelos provenientes de outros modos de ser, a apelos éticos que põem em questão os modelos de compreensão e moralidade dominantes, centrados no conceito da autonomia.
Há, nas escolas, educadores/as adultos/as que se dispõem a acolher, sem razões robustas, a vida precária de jovens pobres? E se não há fortes razões para isso, o que pode vincular eticamente os/as educadores/as à alteridade das pessoas marcadas por vidas precárias? São questões que introduzem a reflexão sobre os impasses e as possibilidades pertinentes à escolarização dos/das jovens pobres, exigida pela lei republicana e democrática. Nesta perspectiva, há que pensar se a escola pode lidar com os estranhamentos, com os/as alunos/as “fora do lugar” (e do tempo) sem excluí-los/las da vida escolar.
A discussão da problemática da alteridade determina a (im)possibilidade de estabelecer um vínculo ético com os radicalmente outros, como são as crianças e adolescentes pobres, condição sem a qual a relação pedagógica fracassa, previsivelmente.
Uma menina sempre de touca
Em um mundo distante, frequentando uma escola distante, vivia uma menininha distante. Distante da vida, da meninice, do reconhecimento. Essa menininha vivia distante das brincadeiras, dos colegas, dos professores. Mas por que tanto distanciamento? Não! Não era Covid-19. Eram os piolhos! Ela tinha piolhos. Muitos piolhos! Eles habitavam nela e, por assim dizer, ela habitava na companhia deles em seu mundo vivencial distante. Perguntada se não sentia coceira, ela respondia com certa indiferença:
– Não! Não! … Às vezes coça um pouquinho.
Parecia que aquela pergunta não fazia muito sentido. Esboçava um semblante de quem é íntima dos pequenos habitantes de sua cabeça. Bem, eles habitam sua cabeça? Habitam sua psiqué? Sua alma? Seus direitos? Quem sabe o direito ao reconhecimento? O direito a ser reconhecida ao menos como A Menina dos Piolhos? Ah, se é isso, eles habitam seu mundo vivido! Se é isso, eles fazem as vezes dos grandes mestres da literatura e de outras áreas de conhecimento na vida dos jovens: ajudam-na a ver sentido em sua vida rasa e monótona.
Pediculose não é algo excepcional. Mas esse caso surgiu de maneira especial como demanda de uma escola. Foi na relação de ensino-aprendizado que soou o clamor para que essa menina fosse atendida em algum espaço do Serviço Público, pois os inquilinos do mundo vivido de A Menina dos Piolhos apareciam como inconvenientes para o coletivo da classe escolar. No fazer coletivo da educação escolar, ao ver das professoras e colegas, os viventes que habitavam a cabeça da menina estavam impedindo que ela tivesse encontros interpessoais que aumentassem sua potência de pensar e agir, algo que se espera acontecer nas salas de aula (GALO, s./d. p. 1). Efetivamente, espera-se que a escola seja um espaço de encontros, que ela possibilite vivências humanizadoras, especialmente com as crianças das classes populares, destas, por serem mais vulneráveis no que diz respeito às aprendizagens e sociabilidades, pois, muitas vezes, estão marcadas por exclusões de diferentes ordens (roupas, calçados, moradia, higienização, entre outras).
E A Menina dos Piolhos, como se sente no ambiente escolar? O estar-piolhenta produz desencontros? A retirada dos piolhos, por si só, produziria encontros? Ou essas perguntas não lhe dizem respeito? Nas conversas com a psicóloga da Secretaria Municipal de Educação, a menina de touca não se sentiu tocada pela pergunta sobre tirar, ou não, os piolhos de sua cabeça, mas, ao contrário, instalou na cabeça da psicóloga a dúvida sobre seu desejo de continuar ou não com os inquilinos sobre sua cabeça. Oportunizou à psicóloga pensar se ela, a menina interrogada, não estaria sendo, de alguma forma, reconhecida justamente pelos habitantes de sua cabeça, a saber, como A Menina Dos Piolhos.
Ora, pensemos juntos, autores e leitor/a deste texto: ela era conhecida na escola, pelos colegas, pelas professoras, por técnicos do serviço público municipal de Saúde e de Assistência Social e por outras pessoas como A Menina dos Piolhos. Ou, simplesmente, A Piolhenta. Sempre de touca, inverno e verão. Parece que cuidava dos bichinhos com zelo, deixando-os sempre bem protegidos. Há muito tempo, no mínimo uns quatros anos, ela viera circulando pelas ruas, de touca, quietinha, franzina, silenciosa. Caminhava sem parar. Ia para todos os lugares demandados pela manutenção da família: mercado, bolicho, farmácia, Unidade Básica de Saúde etc. Ajudava a mãe nas atividades da casa. Deu a entender à psicóloga que não conseguia fazer todas as tarefas que lhe eram atribuídas, devido a sua condição física. Mesmo tão frágil, parecia ser a mãe da mãe, ou quase isso. Generosa, com muito esforço.

Talvez Carlos Skliar (s./d.) tenha razão ao dizer: “O outro colonizado é um corpo sem corpo. Uma voz que fala sem voz. Que diz sem dizer. Que foi massacrado e que segue sendo culpabilizado por seu próprio massacre”.
De família muito pobre. Filha de mãe com adoecimento psíquico, físico, social. De pai trabalhando em pequenos serviços temporários no campo e na limpeza de jardins. E ela, bem ela, dentro de suas limitadas possibilidades, dá conta de tudo no seu mundo familiar: acompanha a mãe nas infindáveis idas para serviço público de saúde, lava roupas, limpa a casa, cozinha, e, é claro, religiosamente trata os cachorros e os gatos.
Em caso de se tirarem os piolhos de seu mundo vivencial, como ela seria reconhecida? Qual seria sua identidade? Seria possível reconhecer outra menina na mesma menina? Sem esses habitantes de seu couro cabeludo, ela se compreenderia como sendo a mesma? Diante disso, que construção se faz necessária? Diante de tantos enlaces e desenlaces no cotidiano de A Menina dos Piolhos, ou, A Menina da Touca, “é possível ignorar o outro”?
No caso de A Menina dos Piolhos, essa pergunta, formulada por Silvio Gallo, exige a resposta negativa, pois ela clamava por um olhar e um dizer sobre ela. Não é por acaso que essa menina insistentemente se fazia presente na escola, causando certo “horror” no seu entorno. Ela estava lá, nas aulas, assídua, comportada, com desempenho satisfatório. O que ela estava buscando na escola? E os profissionais dessa instituição estavam dispostos a atender às demandas específicas dela?
Regenerar vidas humanas arruinadas, responsabilidade também da escola?
Notoriamente, estava-se aqui diante de um caso dessas “infâncias e adolescências que chegam tão violentadas, com vidas tão precárias, mas teimam em ir à escola” (ARROYO, s./d.). Ora, pessoas assim, destruídas na sua condição humana, têm o direito não só a aprender a ler, escrever, contar, aprender noções elementares de ciência, mas também a “recuperar a sua humanidade” (Id. Ibid.). Estão os profissionais da educação escolar decididos a assumir esse encargo? Caso afirmativo, estão a acolher quem está sem acolhida! Mas, e caso os profissionais da educação escolar se decidam por ficar indiferentes à condição sub-humana ou desumana de outros/as, como A Menina dos Piolhos?
De acordo com a interpretação de Sílvio Gallo (s./d. p. 6), a opção pelo descaso em relação à desumanização dos outros é autoengano ou má-fé (no sentido sartreano), “pois, no fundo, sabemos que o outro está ali, que o outro nos olha, nos captura, nos objetifica”. Escamotear o conflito com o outro em nada contribui para eliminá-lo, pois o outro permanece ali e, com ele, o conflito, sem condições de ser resolvido (Id. Ibid.). Apresentando a tese de E. Levinas de que o rosto do outro, que diz “estou aqui”, significa uma ordem para mim e que o laço com esse outro “é atado somente como responsabilidade”, responsabilidade “pelo que não fiz ou pelo nem sequer me interessa”, Zygmunt Bauman (1998, p. 211) afirma que minha responsabilidade com o outro não depende de conhecimento anterior do outro (e de suas qualidades) nem de uma intenção interessada pelo outro, pois ela precede essa intenção e esse conhecimento, os quais em nada contribuem para o modo especificamente humano de conjunção (Id. Ibid.)
Cabe aqui uma pequena reflexão sobre o engendramento do humano nos viventes individuais da espécie homo sapiens. A propósito, vale lembrar que as crianças-lobo Amala e Kamala, descobertas em 1920, na Índia, pertenceram geneticamente à espécie homo sapiens, mas como no seu modo de vida compartilhavam o (culturalmente) pobre ser-no-mundo dos lobos, elas não foram agraciadas pelo acolhimento e pelo cuidado humanos,razão pela qual o humano não pôde ser enxertado em sua estrutura zoológico-genética. Amala em particular, porque precocemente abandonada às lobas, não teve oportunidade de nascer “segundo o espírito”, no mundo cultural dos seres humanos. Com efeito, como, ao nascer, a criança “não passa de um candidato à humanidade” e “não a pode alcançar no isolamento”, ela necessita da relação com os outros seres humanos para aprender a ser um ser humano (LEONTIEV, 1978, p. 238).
Tanto quanto a possibilidade de existir como ser humano, a dignidade humana, isto é, o valor-pessoa de cada um, encontra-se na dimensão relacional, “como uma construção realizada por todos os seres humanos em benefício de cada um”; aliás, não só o ser e a dignidade, mas também a autonomia se recebem dos outros (BARCHIFONTAINE, 2004).
Na perspectiva da ética do cuidado, proposta pelo Conselho Nacional de Educação para os profissionais da educação de todos os níveis, a relação pedagógica com os educandos vulneráveis implica enlaçar o princípio da dignidade (do outro) com o da proteção, o que resulta em corresponsabilidade no sentido de “responder por… perante outros” (BRASIL, 2013, p. 17-19).
O nascer e o renascer dos humanos só é possível no e pelo cuidado dos outros. A saúde, no caso em foco, a simples libertação da pediculose, tem de ser pensada ao mesmo tempo pelo viés instrumental e pelo viés vincular-simbólico. Sem este último, não faz sentido o esforço para melhorar a qualidade de vida (ou prolongar a vida), justamente porque o sentido da vida depende de poder amar e ser amado. Dessa forma, é determinante para a nossa saúde o clima psicossocial que nós criamos em torno de nós, naturalmente em parceria com os outros, através do diálogo.


Cada ser humano individual é “produto de um desenvolvimento histórico”, torna-se humano “em função de ser social” e a sua pertença a determinado grupo cultural não é casual ou aleatória, mas integra seu ser e sua personalidade (BLEGER, 1989, p. 16-20). Sendo relacionais, as pessoas “estão profundamente inseridas em suas circunstâncias históricas e sociais particulares; não se pode compreendê-las apropriadamente abstraindo esses contextos” (SHERWIN, 2004, p. 341). Ao invés de seres pré-sociais, as pessoas “são sempre ‘segundas pessoas’ criadas por meio de processos sociais; tornamo-nos pessoas aprendendo com outras pessoas como ser nós mesmos pessoas” (Id. p. 340).
Por essa ótica, quanto mais profissional, mais personalizado e acolhedor será o trabalho educativo. A dimensão estruturante-disciplinadora da educação escolar deve ser acompanhada pela dimensão vincular-acolhedora. As crianças e adolescentes têm o direito de ver/ouvir sempre na linguagem corporal dos profissionais do cuidar-e-educar a mensagem: “que bom que você veio! Nós estamos aqui para ajudar você a construir e reconstruir sua humanidade!”. No veio de Paulo Freire, Miguel Arroyo tem insistido na tese pedagógica de que “quando tantos seres humanos… são roubados de sua humanidade, a função da educação é recuperar a humanidade roubada” (ARROYO, s./d.).
Em Imagens Quebradas, Miguel Arroyo destaca que, quando escutamos as trajetórias humanas e escolares dos educandos, outras imagens se revelam. Dentre elas, as imagens da barbárie com que são maltratadas a infância e a adolescência. “As imagens reais da infância, adolescência e juventude revelam nossos limites”; mas o reconhecimento de nossos limites não significa que estamos abdicando de nossas responsabilidades profissionais, mas, ao contrário, que estamos assumindo o compromisso de renovar a pedagogia com base em “novas sensibilidades e proximidades com as trajetórias humanas e escolares dos educandos”, reconhecidos como titulares de direitos. Este é o caminho para a renovação da pedagogia (ARROYO, 2014, p. 22 e 56).
Como condição necessária para a renovação da pedagogia, a escola deve se preocupar também com a construção de alianças com os sujeitos de vidas precárias, como A Menina dos Piolhos. Independentemente da questão de nivelar ou hierarquizar condições precárias de vida, para os profissionais do cuidar-e-educar há alianças possíveis e recomendáveis. Quem adivinharia o sentido da pediculose na vida precária da menina de touca? Pediculose manifesta precariedade das condições de vida, sim. Mas como, no caso estudado, trata-se da vida pertinente a uma aluna, essa vida, com sua precariedade, não deve ficar pendurada no lado de fora da escola.
Explicitando o sentido profundo da formação humana integral, Miguel Arroyo (s./d.) diz que a escola tem que se preocupar com a formação plena das crianças e adolescentes “que a sociedade trata de maneira tão injusta, tão dura, tão cruel, aqueles a quem se nega a sua possibilidade de ser criança, de ser adolescente, que são jogados na pobreza extrema, que trabalham para ir à escola e vão da escola para o trabalho, que moram em lugares precaríssimos”. O autor citado indaga se “é possível garantir humanidade nessas vidas tão precarizadas” (Id. Ibid).
Dignidade humana universal e inviolável: pressuposto também do trabalho escolar?
Para que a humanidade possa ser construída em vidas tão precárias, é necessário pensar a construção de propostas que viabilizem vida digna não só para um determinado sujeito, mas para todos aqueles que estão em situação de precariedade/vulnerabilidade, independente de suas demandas. Os sujeitos precarizados necessitam do reconhecimento dos outros sujeitos que compõem a vida em sociedade. O princípio republicano e democrático da dignidade humana universal e inviolável proíbe restringir só para alguns o acesso a condições dignas de vida. Os sujeitos precarizados, abandonados aos piolhos, ao desemprego, à doença, à falta de moradia precisam ser elevados à condição de pertencentes a uma comunidade que os acolha, os proteja e proponha possibilidades concretas de vida alegre e humana.
Kant, no século XVIII, definiu a dignidade humana como valor-pessoa, por oposição ao valor-preço das mercadorias: quem é humano, por esta condição fática, encontra-se no direito fundamental de não ser reduzido a objeto de compra e venda. Além disso, no entender de Kant, a dignidade implica o reconhecimento de que cada um defina para si o seu próprio projeto de vida, ficando assim moralmente proibido aos outros usá-lo como simples meio ou instrumento (KANT, 2004, p. 58-68). Já há mais de dois séculos, Kant defendeu um “direito civil universal”, superior às legislações nacionais, como “complemento necessário ao código jurídico público ainda não elaborado dos direitos humanos”; o argumento a favor desse direito cosmopolita é que “a violação do direito num lugar da Terra pode ter consequências em todos os outros” (KANT, s./d. p. 140). A categoria-chave desse argumento é a de “condições de hospitalidade universal” (Id. p. 137).
Kant iniciou a reflexão sobre os direitos humanos, que foi radicalizada por Hannah Arendt, em consideração aos refugiados. Em Origens do totalitarismo (s./d.), defendeu o direito-a-ter-direitos que esteja acima da ordem internacional dos países, impondo a cada um deles a obrigação de garantir o direito de cada pessoa a pertencer a uma sociedade norteada por direitos. Com efeito, a partir do início do século XX, quem perde sua pátria está impossibilitado de encontrar uma nova, descambando à condição de desamparado/desenraizado, esteja onde estiver. “Só conseguimos perceber a existência de um direito de ter direitos, e de um direito de pertencer a algum tipo de comunidade organizada, quando surgiram milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não podiam recuperá-los devido à nova situação política global” (ARENDT, s./d. p. 330). Paradoxalmente, “só com uma humanidade completamente organizada, a perda do lar e da condição política de um ser humano pode equivaler à sua expulsão da humanidade” (Id. p. 330). Para a filósofa, perde-se a dignidade humana quando se perde a própria comunidade. Com a perda da comunidade se é expulso da humanidade (Id. p. 331).
Ora, em qualquer lugar do globo terrestre isso vale também para as crianças e adolescentes ameaçados e vitimados pelas condições precárias de vida, de acordo com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças e dos Adolescentes, de 1989, cujo cumprimento integral no Brasil foi decretado em 21 de novembro de 1990 (BRASIL, 1990).
A menina distante, de certo modo desterrada, devia ser reconhecida como sujeito de direitos. Devia ser reconhecida como “membro de uma cidade”, com direito à “filiação a uma comunidade política” (GADOTTI, 2014), com o direito de tomar a palavra e falar, em condições de confiabilidade, acerca das motivações subjetivas de sua intimidade com a comunidade dos pediculi humanus capitis.
O ser-humano só pode subsistir no interior da trama instituída e instituinte de relações comunitárias e societárias. O indivíduo autossuficiente não passa de uma abstração enganadora. O social vincula e estrutura o humano, sim, necessariamente. Contudo, existe algo no sujeito que escapa do enredamento do social e/ou coletivo. Tem algo que o constitui com os traços de sua própria subjetividade, a saber, “a empreitada de tornar o ser humano mais humano nunca foi tarefa fácil. Exatamente porque faz parte da condição humana a liberdade” (ARROYO, 2014, p. 48).
Na perspectiva dos profissionais do cuidar-e-educar, poderia A Menina da Touca ser acolhida? Com os piolhos? Sem os piolhos? Ora, acolher é ação social. Para que e como se efetiva o acolhimento depende de decisões humanas. Libertar uma criança da condição de excluída da humanidade e filiá-la à comunidade requer iniciativas práticas por parte dos servidores públicos pertinentes ao caso.
Miguel Arroyo (2012, p. 28-29) propõe aos profissionais da educação que nos perguntemos em que medida somos obrigados a uma ética profissional reformulada “diante da chegada de vidas e corpos infantis e adolescentes vítimas de tantas precariedades”; o autor sugere que tal ética teria que ter “como referente o valor da vida a partir da compreensão da própria precarização de corpos, vidas das infâncias-adolescências populares que vão tendo acesso à escola”.
Após alguns anos de descaso, quando se percebeu que a pediculose de A Menina da Touca se tornou “um problema de saúde pública”, ou seja, que era ameaça para os incluídos, desencadeou-se uma discussão sobre quem deveria atendê-la. Os servidores públicos da saúde, do serviço social, da educação e do Conselho Tutelar, todos emitiram o mesmo juízo: “não é nossa função!”. Se retirar piolhos e ensinar os cuidados básicos com o corpo não é função dos servidores públicos, a quem cabe esse serviço? Também a essa pergunta, as respostas soaram em uníssono, em alto e bom tom:
– Cabe à família! Nós, os técnicos, temos outras atribuições!
Ah! “Nós, os técnicos…!” Não estariam presos, engessados pelos respectivos códigos e estatutos, escondidos por trás do tecnoburocratismo de suas respectivas funções?
Acontece que há famílias extremamente fragilizadas. A mãe adoecida exige da menina de touca o encargo de ser mãe da mãe. Como é impossível a ela dar conta dessa carga, justifica-se ético-juridicamente que algum dos serviços públicos instituídos para efetivar socialmente os direitos fundamentais de todos forneça o suporte necessário e adequado, ao menos momentaneamente, para o empoderamento da menina e de sua família. Com esse pensamento, uma profissional do serviço de psicologia da secretaria municipal de Educação, ao ser abordada sobre se era ou não sua função auxiliar a menina a se livrar dos piolhos, respondeu:
– Se não é minha função, é minha humanidade. E dessa humanidade não abro mão!
Tal posicionamento se inspira numa ideia de Arroyo: “lutar pela humanização, fazer-nos humanos é a grande tarefa da humanidade” (2008, p. 240). O autor citado vai mais longe e apresenta uma elaboração mais concreta dessa ideia antropológica: “essas experiências partem das manifestações de humanismo, de preocupação e de cuidado, de sentimentos que envolvem a relação com as crianças e os adolescentes em todas as comunidades, por mais inumanas que sejam suas condições de produção da existência” (2008, p. 250).
Diante de situações de exclusão e marginalização dos sujeitos que não se apresentam com aquilo que é esperado pelo social e/ou pela escola, é necessário ser a voz daqueles que são considerados como inexistentes na vida. Arroyo (2008, p. 248) fortalece essa ideia, colocando que “tirar a infância da barbárie é um dever da sociedade e um direito de cada ser humano. A escola e nós temos esse dever”. Por isso, devemos compreender as marcas da infância e da adolescência destruídas, trazidas à escola. “Que processos socializadores, culturais e mentais, identitários e éticos os/as marcaram. Que desumanidade carregam para a escola e como fazemos para recuperar a humanidade que lhes foi roubada. Qual é nosso olhar de mestres quando chegam à escola?” (Id. Ibid.).
A barbárie a que estava submetida a aluna em foco aponta para uma exclusão social, uma negação à cidadania. Assim, fazia-se necessário que a menina fosse reconhecida enquanto sujeito integrante da comunidade escolar e que pudesse dar continuidade às aprendizagens sociais, culturais e coletivas. Ainda citando Arroyo (2014, p. 46): “tentar recuperar a humanidade e dignidade que lhes é roubada é de ofício de tantos profissionais dedicados aos cuidados e à formação da infância e adolescência”.
Cabe aqui lembrar do pensamento sociológico de Zygmunt Bauman sobre a moralidade. Respaldado nas obras de H. Arendt e de E. Levinas, Z. Bauman (1998, p. 212) argumenta que “o único significado de ser um sujeito” é a responsabilidade em relação aos outros, “que não tem nada a ver com obrigação contratual”. Para ele, a responsabilidade não condicionada à reciprocidade é o “tijolo constitutivo de todo comportamento moral” (Id. Ibid.). Partindo desse pressuposto levinasiano, “a moralidade é a estrutura primária da relação intersubjetivana sua forma mais cristalina, não afetada por quaisquer fatores não morais (como interesse, cálculo de benefícios, busca racional das melhores soluções ou capitulação à coerção)”, de modo que a moralidade “não é um produto da sociedade”, mas algo manipulado por ela (Id. Ibid.).
Apoiado em pesquisas psicossociais e em análises acerca do Holocausto, o pensamento de Bauman trabalha com a ideia de que a responsabilidade “surge da proximidade do outro”; consequentemente, a responsabilidade tende a ser silenciada pelo desgaste da proximidade com os outros que sofrem, possibilitado pelas conquistas tecnológica e burocrática da moderna sociedade racional (Id. p. 213). Assim, a mentalidade tecnoburocrática, exemplificada pelo grupo de executores do Holocausto, tira das pessoas a sensibilidade pela qual elas seriam afetadas em presença do sofrimento alheio (Id. Ibid.). Junto com isso, produz representações abstratas e depreciativas acerca de certos grupos de pessoas, “justificando” sua expulsão de nosso convívio (BAUMAN, 1998, p. 216-218).
A pergunta que deve ser feita a cada professor/a é se, por homologia à representação abstrata de judeu produzida pelos nazistas, que não tinha nada a ver com os judeus de carne e osso, nossos estereótipos sobre certos grupos de crianças e adolescentes não bloqueiam nossa responsabilidade moral de aceitá-los e ensiná-los, sem que tenhamos problemas de consciência moral, depositando a culpa de sua expulsão da escola sobre as próprias vítimas. Ou estaria errado o Senhor Bauman em seu alerta para nossa tentação de arrancar o que consideramos joio daquilo que consideramos trigo?
Conhecimento escolar: com ou sem reconhecimento da alteridade?
A escola podia e devia desenvolver atividades que pudessem acolher a menina, criando condições para que se desenvolvesse de forma integral. Um sujeito integral é alguém que está de corpo e alma dentro da instituição. Se o corpo ou a alma não estiverem em condições de corresponder aos anseios da coletividade, de vivências solidárias, grupais e de amizades, precisamos pensar e construir formas para que o sujeito esteja em condições de usufruir das sociabilidades e de construir relações de interação com os outros.
Fortalecer o conhecimento acumulado ao longo da história e também criar espaços para novos conhecimentos, acolhendo o que cada um traz de suas culturas, é o caminho para a cidadania. Caso contrário, segundo Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 30), teremos um conhecimento que se sustenta na ignorância e no colonialismo, sendo colonialista a concepção do outro como objeto e o consequente não-reconhecimento do outro como sujeito.
O sociólogo citado propõe o conhecimento-reconhecimento, que progride na medida em que eleva o outro “da condição de objeto à condição de sujeito. Esse conhecimento-reconhecimento é o que designo como solidariedade, […] uma forma de conhecimento que funcione como princípio de solidariedade”. Elegendo a solidariedade como ponto fundamental das relações entre os seres humanos, é possível fortalecer o “conhecimento que se obtém por via do reconhecimento do outro”, que “só pode ser conhecido enquanto produtor de conhecimento” (SANTOS, 2011, p. 30). Assim, o outro é reconhecido como produtor e detentor de saberes.
Para que isso possa acontecer, o outro precisa ser ajudado a se colocar em condições de construir seu discurso sobre a vida, sobre as relações entre os seres, sobre o conhecimento. Essa construção não pode ser feita de forma solipsista. Precisa-se de outras pessoas para que se tornem possíveis a construção e a legitimação de outros saberes, para fazer frente ao saber hegemônico e transgredir o que já está colocado como verdade. É preciso coletividade para o anúncio de outras possibilidades.
Voltando o foco do pensamento para a menina distante, não tem como tirar piolhos sozinho. É preciso parceria. É preciso aproximação, proximidade para tirar esses moradores, tão incômodos para alguns e tão conhecidos dela. Além disso, é preciso convencimento da hospedeira de que os piolhos não fazem parte da humanidade enquanto forma de ser e existir. É preciso que a menina acredite que viver sem eles é melhor do que dividir sua cabeça com esses seres incomodativos. Dando crédito à cultura popular, o aprender acontece “na cabeça”. Assim, o piolhos vivem de dividir o espaço do aprender. Logo, incomodam e criam dificuldades para o aprendizado. Ou não é este o caso de A Menina da Touca?
Como a escola estava no atravessamento desses dois universos – com piolho e sem piolho –, ela tinha a responsabilidade de buscar alternativas viáveis para a aluna. De construir juntamente com a menina, com a família e com outros serviços públicos, um plano de atendimento/acompanhamento para a viabilidade de suas aprendizagens escolares serem fortalecidas.
Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 6º, “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aponta no artigo 2º: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Isto tudo precisa ser construído em interação com o aluno. É preciso fazer com que o sujeito fale. Se pronuncie sobre sua situação, seu estar no mundo, a partir da cultura na qual está inserido/a, mesmo que essa cultura se apresente fora daquilo que o social hegemônico aprova ou solicita. Boaventura de Sousa Santos (2011, p. 30) alerta: “como realizar um diálogo multicultural quando algumas culturas foram reduzidas ao silêncio e suas formas de ver e conhecer o mundo se tornaram impronunciáveis?


Por outras palavras, como fazer falar o silêncio sem que ele fale necessariamente a linguagem hegemônica que o pretende fazer falar?”. Em outras palavras, como fazer com que essa aluna falasse a partir de sua história, da sua cultura e não simplesmente aquilo que queríamos ouvir dela? O “querer que ela falasse” já estava colocado na expectativa do conhecimento hegemônico. Esperava-se que ela pronunciasse o que já estava colocado como aquilo que devia ser dito. Pois, como escreveu Carlos Skliar (2003, p. 41), “o outro da educação foi sempre um outro que devia ser anulado, apagado”; mas, como atualmente o abandono, a distância e o descontrole não são mais suportáveis, os projetos pedagógicos “se dirigem à captura maciça do outro para que a escola fique ainda mais satisfeita com a sua missão de possuí-lo, tudo dentro de seu próprio ventre” (Id. Ibid.)
Assim, os profissionais do cuidar-e-educar precisam suspeitar de seus conceitos e suas verdades, para que se torne possível uma escuta acolhedora e reconstituinte desse outro fragilizado e marginalizado, visando a uma cidadania possível. Os/as professores/as de diferentes níveis/séries de ensino têm dificuldades quanto ao acolhimento, principalmente das crianças e adolescentes das classes populares. Carlos Skliar (2003, p. 39) afirma com ênfase nossa dificuldade de compreender o outro e nossa tradição de massacrar, assimilar, ignorar o outro.
Atualmente, para negar “nossa invenção do outro”, inclinamo-nos a “afirmar que estamos frente a frente com um novo sujeito. Mas é preciso dizer: com um novo sujeito da mesmice” (Id. Ibid.). O autor citado justifica sua afirmação com o argumento do tratamento serial e reiterativo de “identidades a partir de unidades já conhecidas; se repetem exageradamente os nomes já pronunciados”, de modo que “são autorizados, respeitados, aceitos e tolerados apenas uns poucos fragmentos da sua alma” (Id. Ibid.).
Considerações finais: piolhos atrapalham a educação escolar?
Pelo visto, a docência precisa também se render aos piolhos. Ela pode se enveredar por caminhos mais humanizados e acolhedores. É preciso que os/as docentes tenham a coragem de dar um basta na proliferação de ideias, dizeres, escritas que discriminam as crianças e adolescentes das classes populares (ARROYO, 2012).
Que os piolhos nos sirvam de alerta sobre as condições sub-humanas de crianças e jovens que circulam pelas urbes de touca de lã em pleno verão, por não estarem em condições de usufruir da liberdade de deixar os cabelos ao vento, de abraçar e enredar os cabelos com as colegas de classe. De ler em voz alta para que todos escutem o seu dizer. De ter a possibilidade de dizer: “estou presente”. Sem esconder-se. Sem silenciar-se. Sem morrer-se. É de vida que precisamos nos espaços escolares. É de correrias, gritarias, recreios cheios de vivacidade, de cantos e encantos. De falas, de perguntas, de respostas que a docência se constitui.
A docência precisa sair dos armários, das bibliotecas chaveadas, dos silêncios, das caras feias, da falta de preparo no trato com o infanto-juvenil desestabilizador e interrogante. A docência precisa abrir os braços para acolher a vida, precisa abrir os olhos para enxergar os sujeitos, abrir os ouvidos para escutar histórias de gente.
Ao ver de M. Arroyo (2014, p. 79), “é um avanço repensar nossa docência em função dessa infância, adolescência e juventude reais. Temos maior sensibilidade para a centralidade da vida, da alimentação, da moradia e do trabalho na condição humana. São os direitos mais básicos”. O avanço a que o autor se refere tem o sentido de desbanalizar os direitos humanos básicos, incluído o direito à educação. É o sentido inverso da vulgarização da vida humana, que termina por vulgarizar também o trabalho docente. Para milhões de alunos/as, sobreviver é tarefa seriíssima, “tarefa humana, social, cultural e ética extremamente complexa”, que exige a construção de capacidades diversas, construção que corta transversalmente todas as disciplinas escolares e traciona a formação humana integral. Com esta visão da luta pela sobrevivência e por uma vida mais digna “não vulgarizaremos nem a docência, nem a escola pública popular, nem o direito à educação” (Id. Ibid.).
Mas essa visão exige um refinado profissionalismo docente; exige “maior profissionalismo para garantir o direito à educação, aos conhecimentos, à cultura e aos valores de crianças, adolescentes e jovens ou adultos que se debatem pela sobrevivência do que daqueles que a tiveram garantida desde o berço” (ARROYO, 2014, p. 79)
Que os piolhos nunca sejam a desculpa usada pela comunidade escolar para excluir meninos e meninas. Sabe-se que eles – os piolhos – são resistentes. Persistentes. Fortes. São vários. São muitos. Essa menina também era resistente, persistente, forte. Ela também era muitas, sendo uma. Assim se faz referência às crianças e adolescentes das classes populares que ela representa. Pelo fato de aqueles que ela representa estão desenlaçados, são vistos pela escola pura e simplesmente como indivíduos. Dessa forma ficam fragilizados, desamparados. Presas fáceis do discurso hegemônico que a escola reproduz, pois, segundo Bourdieu (1999, p. 41), a organização da escola “é um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural”. Sim, a escola contribui para a reprodução das desigualdades sociais, mas não é menos verdade que, por decisão de seus profissionais, ela pode contribuir para elevar as crianças populares ao gozo de seus direitos fundamentais e para construir as capacidades necessárias para o exercício da cidadania plena.
Pensando que os piolhos incomodam o pensar, como diz o povo, talvez os educadores também devessem pegar piolhos para desacomodar certos pensamentos e, juntamente com outros profissionais, pensarem alternativas de experiências escolares. Outros saberes para o mundo do conhecimento, para que este deixe de ser excludente e se torne acolhedor e construtor de cidadania. Enfim, como diz Boaventura de Sousa Santos (2010), conhecimento prudente para uma vida descente. Vida digna, alegre, sem touca, sem discriminação, sem temores. E, finalmente, sem piolhos!
Autoras e autor: Amabilia Beatriz Portela Arenhart[1]
Taís Portela Arenhart[2]
Livio Osvaldo Arenhart[3]


Este texto faz parte do Livro Interlocuções de Saberes XVII do Instituto Estadual de Educação Odão Felippe Pippi, Editora Metrics, 2021, organizado pelos professores Milton César Gerhardt e Irena Bielohoubceck.
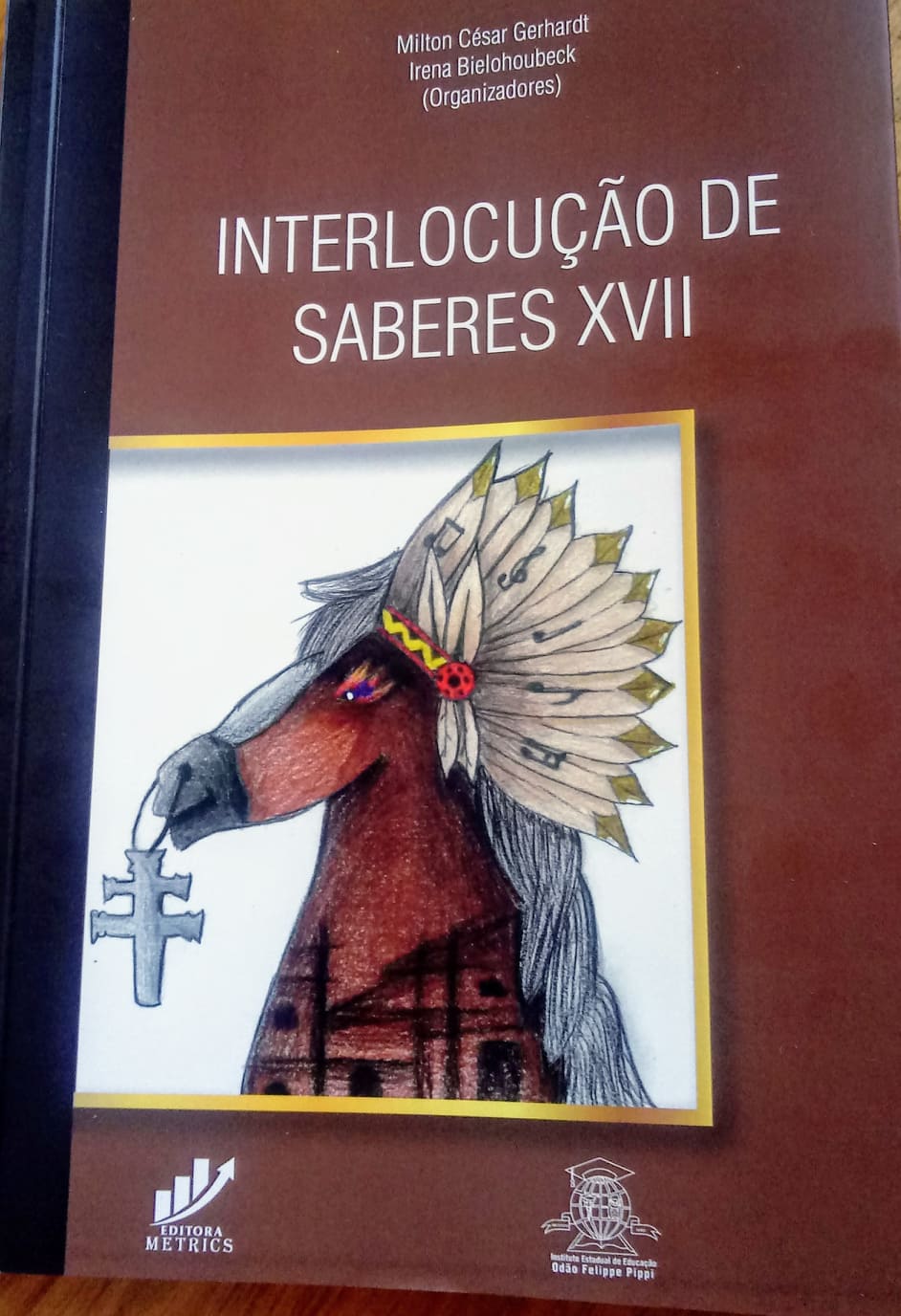
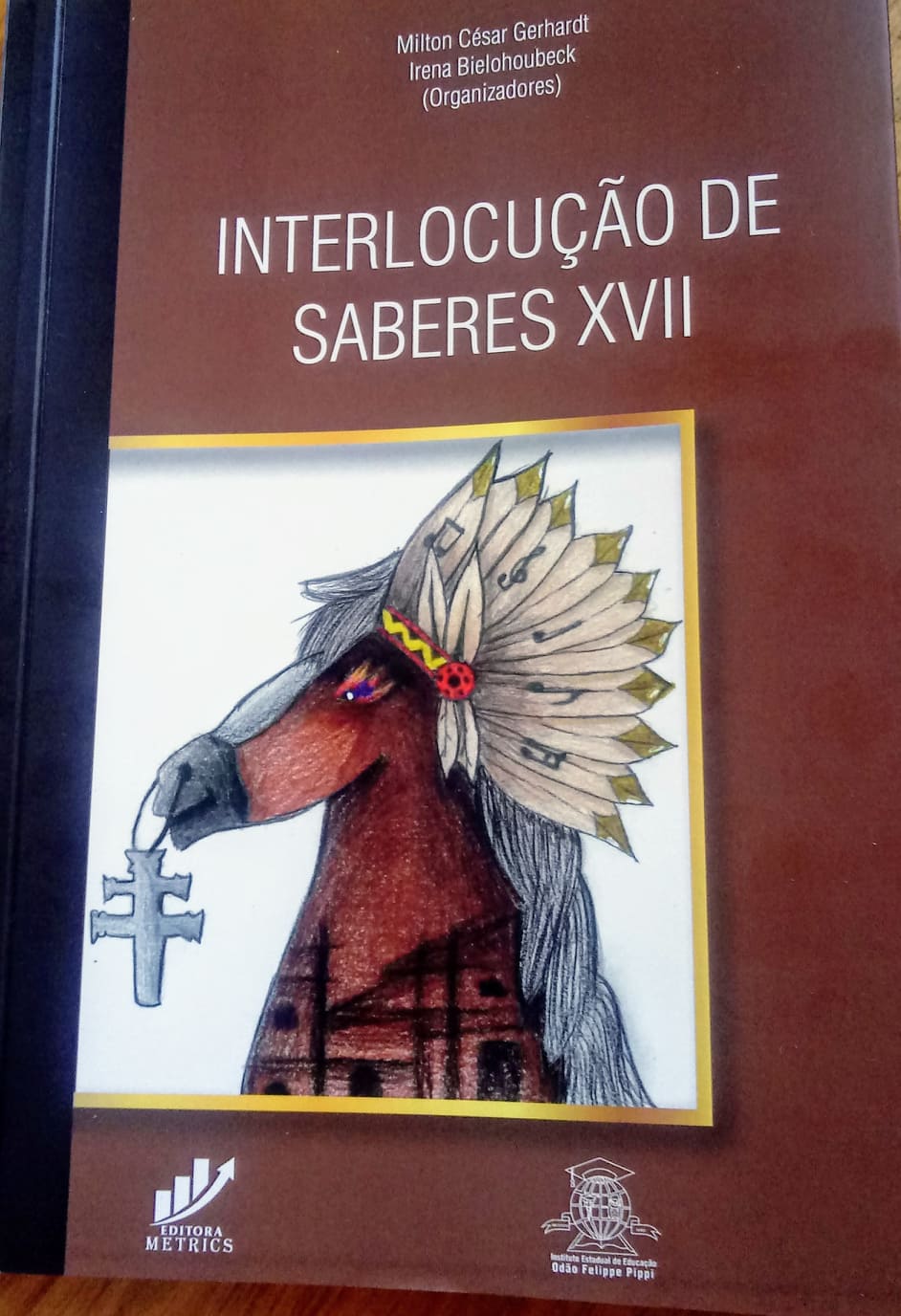
Referências
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo (s./d.). Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_arendt_origens_totalitarismo.pdf>. Acesso: 23 mai. 2016.
ARROYO, Miguel G. A escola tem que se integrar com uma pluralidade de forças para dar conta da educação integral (s./d.). Disponível em: https://educacaoeparticipacao.org.br/acontece/miguel-arroyo-a-escola-tem-que-se-integrar-com-uma-pluralidade-de-forcas-para-dar-conta-da-educacao-integral/. Acesso: 31 jun. 2017.
ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas: Trajetórias e tempos de alunos e mestres. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
ARROYO, Miguel G. Oficio de Mestre: imagens e autoimagens. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
ARROYO, Miguel G. Corpos precarizados que interrogam nossa ética profissional. In: ARROYO, Miguel G. ; SILVA, Maurício Roberto da (Org.). Corpo-infância: exercícios tensos de ser criança: por outras pedagogias dos corpos. Petrópolis: Vozes, 2012.
BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Nascer ou não com graves deficiências congênitas? Algumas interpelações bioéticas. In: GARRAFA, Volnei & PESSINI, Leo (Org.). Bioética: poder e injustiça. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004.
BAUMAN, Zigmunt. Modernidade e holocausto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
BLEGER, José. Psicologia da conduta. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. Disponível em: search.avast.com/AV772/search/web?fcoid=417&fcop=topnav&fpid=27&q=diretrizes+curriculares+gerais+educa%C3%A7%C3%A3o+b%C3%A1sica. Acesso: 08 abr. 2017.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. DECRETO No 99.710, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso: 21 jul. 2017
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 16. ed. Porto: Afrontamento, 2010.
BOURDIEU, P. A Escola Conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. In NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. Escritos de Educação. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
GADOTTI, Moacir. Cidade Educadora e Educanda. Disponível em: https://vandaberger.wordpress.com/2014/11/08/realizacao/. Acesso: 17 jun. 2017.
GALLO, Sílvio. Eu, o outro e tantos outros: educação, alteridade e filosofia da diferença. http://gajop.org.br/justicacidada/wp-content/uploads/Eu-o-outro-e-tantos-outros-S%C3%ADlvio-Gallo.pdf. Acesso: 01 jun. 2017.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret, 2004.
KANT, Immanuel. A perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70, s./d.
LEONTIEV, Aléxis. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978.
SHERWIN, Susan. Fundamentos da bioética feminista. In: GARRAFA, Volnei & PESSINI, Leo (Org.). Bioética: poder e injustiça. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004.
SKLIAR, Carlos. É o outro que retorna ou é um eu que hospeda?Notas sobre a pergunta obstinada pelas diferenças em educação. http://25reuniao.anped.org.br/sessoesespeciais/carlosskliar.doc Acesso: 01 jun. 2017.
SKLIAR, Carlos. A educação e a pergunta pelos Outros: diferença, alteridade, diversidade e os outros “outros”. Ponto de Vista, Florianópolis, n.05, p. 37-49, 2003.
[1] Bacharel em Psicologia e em Direito; Especialista em Direito, Psicanálise e Sociedade; Mestra em Ciências Sociais Aplicadas; Doutora em Educação nas Ciências; Psicóloga na Secretaria de Educação do Município de Entre-Ijuís; docente na Faculdade CNEC de Santo Ângelo. E-mail: amabilia_a@hotmail.com
[2] Licenciada em Matemática; Mestra em Modelagem Matemática; docente de Matemática em escola da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E-mail: arenhartais@gmail.com
[3] Licenciado em Filosofia e em Pedagogia, Mestre e Doutor em Filosofia e docente adjunto da Universidade Federal da Fronteira Sul. Pós-doutor em Educação nas Ciências. E-mail: livio.arenhart@uffs.edu.br
Edição: Alex Rosset













Texto muito bem construído e conteúdo relevante, mostrando a realidade em muitas instituições que tratam de forma desumana as crianças que já chegam na escola fragilizadas pela forma como a sociedade os recebe. Parabéns!!